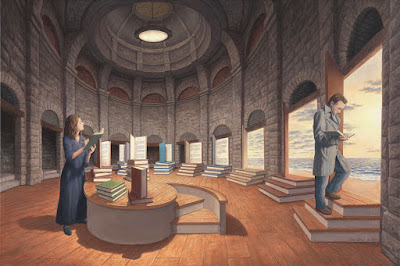|
| Pintura de Ludwig Fahrenkrog |
Os alemães talvez sejam o povo menos caseiro do mundo, o que se vê no fato de que, saindo de suas terras, sempre para mais longe, conquistaram regiões e influenciaram muitos, senão todos, os povos do mundo, dando forma, por sua vez, ao mundo ocidental. A weltanschauung, com a filosofia, a política, a poesia, as artes em geral, as ciências, tomou para si a missão de levar adiante a história do Ocidente enquanto civilização. Inicialmente na Europa, com a expansão e conquista germânica do continente logo da queda do império romano, que se perpetuou por tradições nobiliárquicas, em seguida nas Américas, mas já um movimento levado a cabo por dissidências modernistas, não tradicionais e não mais por sangue necessariamente germânico, embora as ferramentas e a bagagem histórica dessa expansão marítima da Europa seja toda ela construída pelo espírito germânico, essencialmente continental.
Apesar desse espírito germânico expansivo, angustiado e determinado a um fim metafísico, é típico do alemão, mais do que a qualquer povo no mundo até onde se saiba, o tema da nostalgia, da saudade de uma terrinha caseira, pacata, simples, rústica, mas, justamente por tudo isto, consoladora. Por onde se assenta o alemão, seja no Volga, nos Estados Unidos, no Brasil, lá ele canta, em tom iluminado, mas repleto de uma dor oculta, o querido Heimat: "In der Heimat möchte ich sein". O alemão percorre o mundo em busca do elixir, da poção mágica que lhe deve curar a dor existencial, mas, não a encontrando em lugar algum, lá senta ele, melancólico, no meio das trevas, e canta o Heimat. Dia após dia, não encontrando o Graal, como Parcival, chora e canta - e sua música é iluminada como uma manhã de primavera, tem o sotaque de um passarinho, mas um sentimento e um significado escatológico, pois se trata de uma contemplação do nada (ou será do ser?). Ouvindo, talvez nenhum outro povo perceba a gravidade desse canto, mas um alemão, só de ouvir e cantar Heimat, é como se ao mesmo tempo Deus criasse o mundo e o destruísse, num só golpe; fica então só a irresolução da alma daquele que ficou de fora desse Heimat, a dor irreparável de não se sentir em casa em lugar algum.
O alemão tem outra palavra muito significativa: Heimweh. Ela é traduzida para o português como "saudade", mas tem um significado muito particular, até bem distante do "saudade", embora esta seja talvez a melhor palavra lusa para a qual traduzir a germânica Heimweh. Heim, mais propriamente, é "lar", weh se traduz por "dor, sofrimento"; mas o que se pode tirar disso? É preciso uma intuição muito aguda e muito bem direcionada para compreender o que os alemães dizem quando falam Heimweh, através da mera análise gramatical. Não podemos simplesmente deduzir ou induzir nada a partir dessa análise, senão simplesmente os termos friamente sobrepostos: lar e dor.
Para iniciarmos um entendimento com a palavra, devemos começar por esclarecer que o termo Heim, para o alemão, tem um significado ligeiramente distinto do "lar" do português. Heim não é só o "lar" daquilo que chamamos de casa, apartamento, uma construção ou um ambiente sentimental, com a mulher e as crianças. Heim é o lar da alma, e este lar não tem lugar no mundo, e só através da poesia, ou seja, das artes, que o alemão consegue provisoriamente trazer esse lar para o mundo - por isso o alemão é pensativo, e sua mente alterna o tempo todo entre a visão das trevas, do caos, e a do Heim. Mas a forma desse Heim é semelhante a todos os alemães: é uma manhã de primavera, úmida pelo orvalho, que seca nas flores do campo de um vale remoto e virgem, motivo pelo qual Heidegger, ao comentar os poemas de Hölderlin, Trakl e outros, onde muito se fala em "tarde" e "noite", interpretava estes tempos, em verdade, como manhãs de acordo com o sentido do poema, ou seja, como o advento, como a imagem mais própria da origem, da harmonia e da consolação. Fama também têm os alemães de serem idealistas e românticos, de derivarem a realidade toda unicamente das próprias mentes, o que serve de motivo de zombaria ou medo para grande parte dos outros povos, que veem os alemães como loucos incapazes de pôr os pés no chão, capazes de pôr de repente tudo a perder. Esse comportamento é manifestação do seu ser, e revela muito da intensa atividade que os princípios metafísicos provocam no homem alemão: consciente ou inconscientemente, ele é agitado pelo potencial que a distância em relação ao Heimat causa na alma e, assim, na mente e nos sentimentos.
Tendo introduzido uma reflexão sobre o termo Heim, é preciso agora tentar fazer o mesmo com Weh. Assim como Heim não é um termo vulgar que se possa traduzir de qualquer jeito sem perda do significado original e essencial, o mesmo acontece com Weh. Em alemão temos outra palavra para dor e sofrimento: Leid, ambas têm significância profunda e nos serviriam aqui, já que não é exatamente do termo que estamos falando, mas do fenômeno. Avançando, a dor, para o alemão, também quer dizer algo muito além de uma dor física, como quando machucamos a perna e ela dói, muito além também da dor sentimental, como quando perdemos um ente querido e dizemos que o coração dói; para o alemão, todas essas dores são de fato dores, mas no sentido em que elas participam de um significado mais profundo e mais abrangente. Quando perdemos um ente querido e nosso coração dói, para o alemão, isso significa que se abriu uma distância e um buraco na alma, e que é essa distância da alma à sua essência própria, a sua condição de solidão e esvaziamento, de necessidade de um preenchimento metafísico, é isso tudo que é a dor. A dor é a irresolução da alma, sua incompletude: a perda de um ente querido é apenas símbolo para uma realidade metafísica, a realidade do vazio, da solidão, ou seja, da distância do Heimat. Assim, o alemão é muitas vezes considerado frio, por um lado, por não ser tão "caloroso" com os entes que vão, mas, por outro lado, vítima enfraquecida de "meras" conclusões filosóficas e religiosas, que o faz comumente adoecer, enlouquecer e morrer de desgosto, quando não se suicida por "pouca coisa", "com a mudança do vento".
Heimweh, portanto, traduzida por saudade ou nostalgia, é mais como a reminiscência da origem, as memórias de um tempo mítico e primordial, de uma terra onde se pode chamar de "sua", no sentido de que é o alemão que pertence à terra e não o contrário. Um campo iluminado por um sol radiante, de cuja luz todos os seres vivos, árvores, flores, roedores, borboletas, todos se alimentam e são eternos, num tempo que não passa, onde as formas não são destruídas ou transformadas, mas coexistem harmonicamente, em contemplação pura. A dor vem da distância desse tempo mítico, que não é uma distância espacial nem temporal, mas metafísica. Vivendo no espaço-tempo, o alemão está limitado (condenado!) a absorver apenas reflexos desse Heimat, que ele enxerga sobretudo nas formas com as quais representa o tempo mítico, ou seja, no dançar serelepe e gracioso da borboleta, que beija flor atrás de flor, anunciando uma manhã ainda fresca e umedecida por gotículas cristalinas e perfeitas de orvalho, que, por sua vez, se misturam ao aroma suave e sutil das pequeninas florezinhas desabrochadas das gramíneas. E o sol, que dá ser aos entes, ilumina esta terra, onde se encontra o homem (sua essência), ou seja, ilumina o Heimat, o reino, o Reich.
O homem (a essência dele) se encontra no Heimat. O que significa isto? Significa que o alemão, ao sofrer tanto por este Heimat, não está sofrendo em vão: essencialmente, ele pertence ao Heimat, e lá se encontra o conteúdo que está faltando em sua alma vazia e errante pelo mundo espaço-temporal. "Para além do gelo, da vida e da morte", Nietzsche cita Píndaro ao se referir às gentes como ele, Nietzsche, um espírito alemão. Para além das intempéries da existência, lá está o alemão, no Heimat, ou pelo menos o que chamamos de sua essência, de alma, de espírito, sua realidade metafísica, enquanto este homem consciente espaço-temporal habita um mundo provisório, "temporal", frágil, embrutecido, onde as formas são o tempo todo destruídas e transformadas e nada é como deveria ser. "Aqui" e "agora", pois, são a representação da perda do Heimat: o alemão canta uma terra perdida, e é como se não buscasse terra alguma, porque ele senta e mergulha os olhos na imensidão; por quê? Porque não se trata de uma terra ali ou acolá, em um continente, embora tenha no coração da Europa o ambiente ideal formador da sua raça, e no fundo o alemão sabe que não se trata disso, por isso ele canta e, nesse cantar, traz um pouco do Heimat para o mundo, ou melhor, espia de longe a riqueza do Heimat, atualiza e revive constantemente o tempo mítico na medida em que o pode fazer. Aqui descobrimos um fenômeno popular que remonta a sociedades primitivas, cujos rituais tratavam de constantemente instaurar na tribo o tempo mítico, sempre feito com simbologias cosmogônicas. Isto revela a antiguidade, a profundidade e a amplitude que há no Heimweh, cuja natureza de modo algum se pode rebaixar a um mero sentimento, no sentido moderno e talvez até medieval do termo; traduzimos esta palavra anteriormente por algo como uma reminiscência, como a memória, e estes termos, nestes sentidos metafísicos, remontam a Platão, mas cujo sentido e significado se perdem na pré-história humana.
A filosofia germânica, por sua vez, é marcada por estes problemas metafísicos que atormentam o espírito germânico, em geral, e isto se tornou motivo para que a filosofia alemã parecesse ao resto do mundo como um obscurantismo, um idealismo ocultista, muito inspirado, no entanto, pelo misticismo de filósofos como Meister Eckhardt e Jakob Boehme. Schopenhauer, por exemplo, vê o sofrimento como a realidade mais imediata, universal e radical do mundo, que ele concebe como a representação metafísica de uma vontade abstrata que tende infinitamente à perdição - a maneira dos entes se livrarem desse abismo é fazer o caminho inverso desta vontade da qual somos a representação, ou seja, aniquilar em nós a vontade de viver; Schopenhauer, flertando com as tradições orientais, não considerava o homem como a centralidade do ser, e tudo o que se passa com o homem, de modos e medidas distintos, também vale para os animais, para as plantas, mas também para as pedras e todos os demais entes da "natureza": eles também sofrem, pois todo o "aqui" e "agora" espaço-temporal é mera representação e carece, portanto, da perfeição do real metafísico, o nada, o não ser. Schopenhauer também sofreu da nostalgia pelo nada, mas também do Heimweh, o princípio positivo, o Jardim do Eden - era um amante das artes, da literatura, das línguas clássicas, das tradições e dos cantos orientais, martirizado, porém, por uma surdez que o impedia dos prazeres da música de sua época.
Na pintura, os alemães levaram o simbolismo e o romantismo às alturas, ou melhor, aos abismos cavernosos de corações nostálgicos e martirizados por intuições metafísicas: Caspar David Friedrich, entre muitos outros dignos de citação e admiração, soube sintetizar em sua obra o romantismo, que se trata de um movimento erudito, com o sentimento genuinamente popular do andarilho do campo que contempla a bela Erde - ou o que restou dela em meio à profunda melancolia de um observador sensível. Aqui notamos uma certa renúncia à realidade, a mesma renúncia para a qual Heidegger chama a atenção na poesia de Georg Trakl, em Unterwegs zur Sprache (A Caminho da Linguagem); uma renúncia à ordem sacra da natureza, ao κόσμος, mas que denuncia, sobretudo, a Weh na contemplação dos campos, próprios ao observador, à alma que vê. A paisagem, ideal, nas pinturas de Friedrich é também o Heimat, mas o Heimat velado pelo mistério e manchado pelas emoções de um homem consciente da distância; tratam-se de imagens manchadas pelo sangue que transborda da incurável ferida metafísica, e que evidencia nos campos do Heim a própria Weh. Portanto, aqui pode estar velada, sim, de forma erudita porém clara, a Heimweh. Suas pinturas não poderiam deixar de ser germânicas, e talvez principalmente por causa desse sentimento intraduzível, que é genuinamente germânico.
Heidegger escreve: Tristeza e alegria tocam e jogam uma com a outra. O jogo que afina tristeza e alegria entre si, aproximando a distância e distanciando a proximidade, é a dor. Por isso, tanto a alegria mais intensa como a tristeza mais profunda são, cada uma a seu modo, dolorosas.[1] A palavra usada pelo filósofo, porém, não é Weh, mas Schmerz, que é de fato a tradução mais literal para a palavra lusa "dor". Mas, como dito anteriormente, o mais importante aqui não é a terminologia, mas o fenômeno, que se traduz e se multiplica por inúmeros termos diferentes, como Angst, Melancholia, Sehnsucht, cada qual agarrando um aspecto mais preciso e particular do fenômeno. Mas, voltando ao texto de Heidegger, tentemos intuir alguma coisa, pois ele pode nos dar mais uma pista do fenômeno investigado.
Ele diz primeiramente que tristeza e alegria tocam e jogam uma com a outra; ora, tristeza e alegria são estados de ânimos que costumamos considerar opostos entre si. Elas se tocam e jogam uma com a outra: quer dizer que não são duas coisas opostas, mas fenômenos unidos, aspectos de um mesmo; entre ambas, há algo que as unifica, um continuum. Ele diz de novo: o jogo que afina tristeza e alegria entre si, aproximando a distância e distanciando a proximidade, é a dor. Schmerz está em itálico para enfatizar alguma coisa importante: não é uma mera dor, mas isso não significa que é uma "dor muito grande"; significa que sua natureza é mais essencial e fundamental. E, de fato, a dor não é um meio termo entre alegria e tristeza, mas aquilo que as torna um só fenômeno; a dor aproxima a distância, na medida em que há, ainda assim, uma diferença superficial entre alegria e tristeza, mas ela também distancia a proximidade, porque, ambas sendo um, são tornadas duas através do jogo que a dor joga, sendo ela pura atividade. A dor é criadora, e é fundamento e princípio para os estados de ânimo, sejam eles "positivos" ou "negativos" - é da dor que tudo sai, logo, todos os ânimos terão em si, como essência, a própria dor; por onde vai o homem e por onde ele vive, lá está a dor como substância, se é que nos é permitido usar este termo ousado e perigoso. Mas é por isso que Heidegger ao fim conclui: por isso, tanto a alegria mais intensa como a tristeza mais profunda são, cada uma a seu modo, dolorosas.
Isso aponta para uma impressão semelhante à de Schopenhauer, que via a dor e o sofrimento como essenciais à realidade representacional, distante das formas eternas do Heimat. Mas, em outro lugar, Heidegger afirma que a linguagem é a morada do ser. Não é interesse nosso desvendar todo o sentido desta frase, mas fazer alguns apontamentos: nessa morada, a linguagem, o homem habita; não se trata aqui, portanto, da linguagem como usualmente compreendemos, mas da essência da linguagem, que rege não apenas a fala humana, mas a relação ontológica de todos os entes no ser; e se os entes se comunicam, é porque a linguagem é que fala através dos entes. A morada do ser é a morada do homem: é o Heimat. Por ser tão essencial e sutil, a linguagem também é ofuscada pelo palavrório ou falatório do cotidiano, e requer harmonia entre o falar do homem e o dizer da linguagem, que flui como eternidade falante; assim, Heidegger também concluirá através de suas investigações que é a poesia a melhor ou única forma pela qual a linguagem, sozinha, comunica a si mesmo através do homem. O poeta, nesse caso, é aquele atravessado pelo Heimat, é aquele que o permite se manifestar, falar, trazer alguma mensagem. É aquele que vive rumo ao Heimat, como se já estivesse no Heimat, apenas com a terrível fatalidade e diferença de se encontrar tão distante dele, enquanto é espaço-temporal, e o Heimat, além de toda limitação do "aqui e agora". Além disso tudo, poesia e pensamento, sendo tão diferentes (ou idênticos) entre si como alegria e tristeza, são um mesmo, e tratam de permitir que a linguagem fale na linguagem da linguagem. Aqui podemos recordar os gregos, cujos poetas eram inspirados por musas, tal como os filósofos, amantes da deusa da sabedoria. A diferença é que o germânico, ao invés de iniciado positivamente pela beleza das musas, é um condenado ao mistério da recordação de uma terra perdida, um reino perdido, oculto, em "algum lugar", em "algum tempo".
Essas reflexões chegam em tempos difíceis; os germânicos, ainda mais aflitos com a condição do mundo, seja na Europa, na América do Norte ou na América do Sul, onde há colônias que ainda lutam para preservar suas tradições (e manter mais próximo o Heimat), angustiadamente abraçam a modernidade e a globalização em busca de alguma resolução imediata para problemas cuja natureza, em verdade, é metafísica. Então exploram suas cidadezinhas e suas comunidades, que os abraçaram e consolaram durante gerações, onde rostos familiares só de aparecer no espaço público já causavam consolo, traziam o Heimat, a morada, e, explorando por um lado seus tesouros históricos (por exemplo, através do turismo e dos souvernirs), também os abandonam em busca de carreiras no nomadismo global, onde não há chão firme nem rosto amigo para uma companhia duradoura.
O combate de Heidegger e Jünger ao imperialismo da técnica, que é um combate genuinamente germânico, se mostra cada vez mais atualmente necessário. Famílias inteiras estão se dissolvendo, perdendo sua história para os interesses do mercado e das ideologias reinantes, que visam à destruição completa das identidades e diferenças, nivelando populações a fim de legitimizar um governo global onde os "governantes" são os chefes de oligopólios e monopólios, inalcançáveis ao poder dos povos. E o ganho da economia sobre as humanidades deve representar, evidentemente, a derrota da essência humana, da essência do homem e do mundo enquanto seres vivos repletos de significância e propósitos metafísicos; deve representar a prisão da alma, da ψυχή, a servidão da alma a propósitos meramente materiais.
E o que isto tudo significa? No mínimo, que a existência humana já não tem mais razão para continuar sendo. E embora isso tudo possa parecer uma bazófia para as massas, crentes nas maravilhas que o mundo moderno proporcionou, não lhes parecerá no futuro; assim como hoje, sem ter noção do significado (histórico e religioso-metafísico) da decepção e da epidemia de depressão e ansiedade que temos por todos os lados nas sociedades, apesar de tudo, clamam as massas enlouquecidamente por mudanças, em todos os setores e regiões da civilização ocidental.
Este texto tem o propósito, além do de provocar uma reflexão acerca da alma germânica, ao mesmo tempo, de fazer um chamado aos germânicos, um chamado à reflexão e ao estudo da gigante história e do rico legado germânico que sobra durante esta história.
Para terminar, deixamos abaixo um trecho de uma canção popular alemã, cujas variações podem ser encontradas em todas as colônias, já que o tema, bem temos que reconhecer, é familiar a todos.
In der Heimat auf der Ferne, in der Heimat möchte ich sein.
In der Heimat, in der Heimat gibt es frohes Wiedersehen.
Abends wenn die Lüfter wehen un der Mond am Himmel steht,
Steigt in mir ein heißes sehen, in der Heimat möchte ich sein.
Wenn ich sehe wie andre Kinder in dem liebsten Elternhaus
Gehen zum Vater, gehen zur Mutter, gehen froh tagein tagaus.
Und ich muß ins weiter Ferne, in den fremden Orten sein.
Muß mein Brot mir selber verdienen. O es ist so hart wie Stein.
NOTAS
[1] Heidegger, M., A Caminho da Linguagem, Vozes, pg. 186.